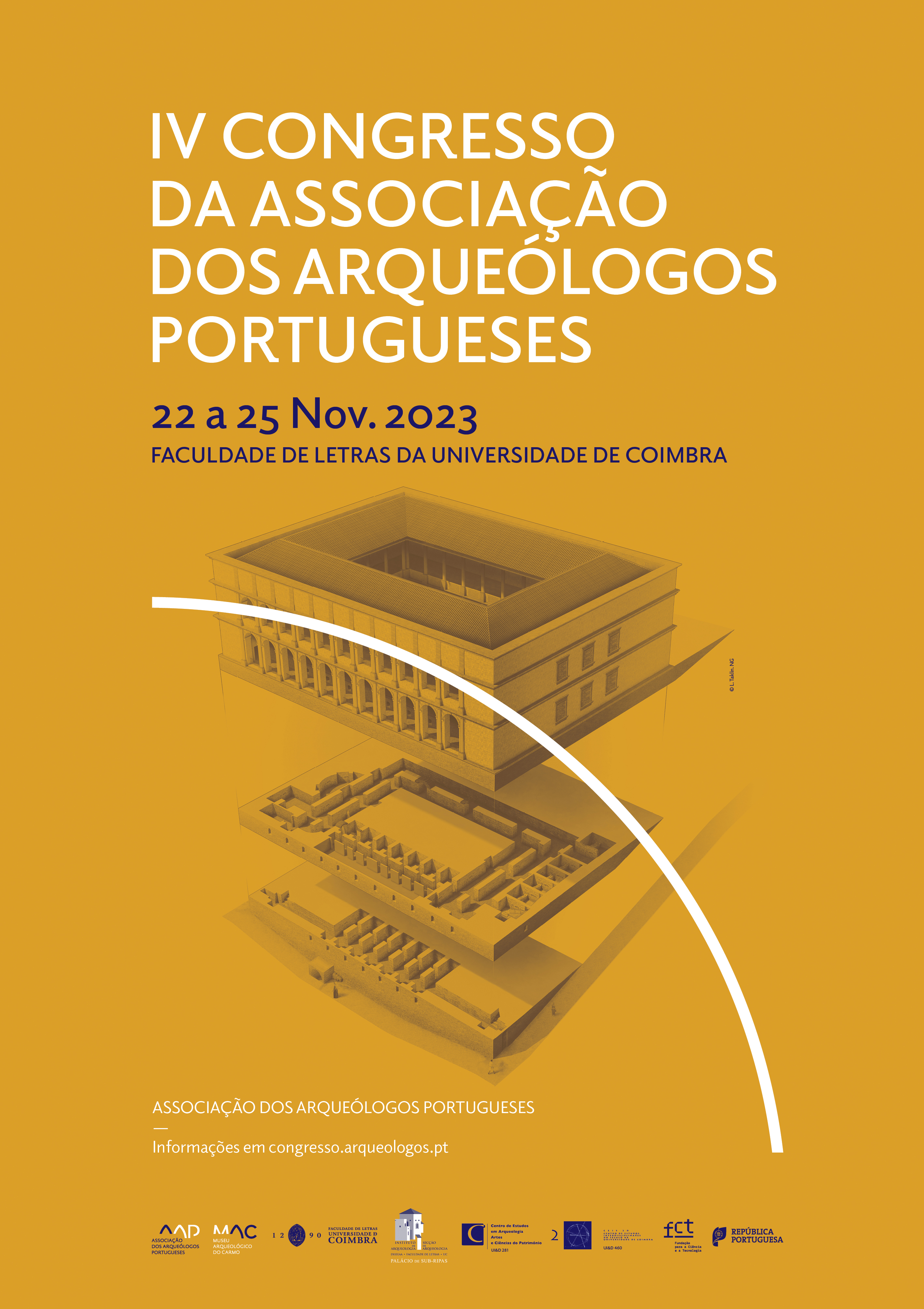Arqueologia em Portugal: 2023 - Estado da Questão
5. Época Moderna
5.1 A NECRÓPOLE MEDIEVAL E MODERNA DE BENAVENTE: RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO DE ARQUEOLOGIA PREVENTIVA
Joana Zuzarte / Paulo Félix
No centro histórico de Benavente foram identificados contextos funerários durante o acompanhamento arqueológico da obra na atual Praça da República, local onde outrora se ergueram as Igrejas matrizes da vila. A necrópole aqui identificada representa vários séculos de utilização, de onde se recuperaram 30 indivíduos, seis reduções, três ossários, vários ossos dispersos e espólio arqueológico diverso. Esta amostra data do século XVII, cronologia fundamentada através dos materiais recolhidos dos sedimentos de enchimento das sepulturas e sedimentos envolventes em conjunto com o espólio funerário. Do total de espólio osteológico recuperado, o número mínimo de indivíduos estimado é de 81, dos quais 77% (62/81) são adultos e 23% (19/81) não adultos.
5.2 RUA DA JUDIARIA – CASTELO DE VIDE: ASPETOS GERAIS DA INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA NA EVENTUAL CASA DO RABINO
Tânia Maria Falcão / Heloísa Valente dos Santos / Susana Rodrigues Cosme
Os edifícios n. 17 e 19 da Rua de Judiaria em Castelo de Vide foram alvo de um projeto de requalificação por parte do Município, tendo como objetivo a sua reabilitação e fruição como espaço público de comércio e habitação. Iniciados os trabalhos de Acompanhamento Arqueológico, foi necessário, dado os resultados obtidos, alterar para a escavação integral das 3 salas que compunham o rés-de-chão. Em todas elas foram detetadas estruturas negativas (silos e outros) e um tanque, que dadas as suas dimensões, construção, localização e presença de materiais como alfinetes de cabelo, poderão indiciar a presença de um Mikvá. O edifício em questão está localizado em frente da Sinagoga de Castelo de Vide e poderá tratar-se da eventual casa do Rabino do séc. XV/XVI.
5.3 A COLEÇÃO DE ESTANHO DE ESPOSENDE
Elisa Frias-Bulhosa
Este artigo aborda o estudo da coleção de objetos de metal da exposição «Patrimónios Emersos e Submersos – Do Local ao Global», focando-se especialmente nos objetos de estanho. Esta coleção resulta do achado de uma embarcação da Época Moderna naufragada. Através da inventariação dos objetos em estudo, desenvolveu-se uma análise formal e funcional. Procura-se evidenciar o escasso estudo dedicado aos objetos de estanho em Portugal, para além de dissecar as metodologias utilizadas internacionalmente e documentar a discrepância de informação entre os diferentes contextos científicos que se têm dedicado ao tema.
5.4 TRÊS BARRIS NUM CAMPO DE LAMA: DADOS PRELIMINARES PARA O ESTUDO DA VITIVINICULTURA NA CIDADE DE AVEIRO NO PERÍODO MODERNO
Diana Cunha / Susana Temudo / Pedro Pereira
A descoberta de vestígios arqueológicos associados a uma produção vitivinícola do período Moderno, no âmbito de uma intervenção de salvaguarda, realizada na cidade de Aveiro, permite-nos inscrevê-la na história da viticultura. Estudos em que o discurso arqueológico assume-se insuficiente, sobretudo a partir do período medieval e que com a intervenção realizada em 2021, numa parcela urbana da rua do Gravito, possibilita a exposição de realidades ancestrais associadas ao cultivo da vinha, as quais, neste caso em particular, sobrevêm desde o período medieval. Um espaço atualmente urbano que em tempos correspondeu às terras de lavradio referidas no foral manuelino (1514) como zona de produção de vinho. Uma paisagem marcada pelo parcelário rural disposto ao longo do principal eixo viário de saída para Norte.
5.5 AVEIRO COMO CENTRO PRODUTOR DE CERÂMICA: OS VESTÍGIOS DA OFICINA OLÁRICA IDENTIFICADA NA RUA CAPITÃO SOUSA PIZARRO
Vera Santos / Sónia Filipe / Paulo Morgado
Os dados agora partilhados resultam da intervenção de Arqueologia Preventiva levada a cabo no âmbito da construção de um edifício habitacional no centro de Aveiro. Com este artigo, procura-se ampliar o conhecimento da atividade de produção oleira em Aveiro, atestada pelos vestígios da oficina que aqui laborou. Procura-se, ainda, enquadrar as dinâmicas de ocupação do espaço intra e extra-muralhado à luz dos resultados agora recuperados do registo sedimentar desta parcela de chão de Aveiro.
5.6 A CASA CORDOVIL: CONTRIBUTO PARA O CONHECIMENTO DE ÉVORA NO PERÍODO MODERNO
Leonor Rocha
Os trabalhos arqueológicos desenvolvidos, entre os meses de Agosto e Dezembro de 2022, num edifício da Universidade de Évora, permitiu identificar um conjunto de estruturas e materiais arqueológicos balizados entre o período moderno e o período contemporâneo. A Casa Cordovil é uma das antigas casas senhoriais da cidade de Évora, localizada no lado Sudeste da cidade, nas imediações do Largo das Portas de Moura, entre a Cerca Velha e a Cerca Nova. Esta intervenção surgiu da necessidade da Universidade de Évora proceder a trabalhos de reabilitação e melhoramentos na Casa Cordovil, e teve duas vertentes, a de acompanhamento arqueológico e a escavação de um silo identificado numa das valas abertas.
5.7 RECONSTRUIR A CIDADE: O PRÉ E O PÓS-TERRAMOTO NA RUA DAS ESCOLAS GERAIS, Nº 61 (LISBOA)
Susana Henriques
Na Rua das Escolas Gerais nº 61 identificou-se três realidades arqueológicas que vão desde o século XVIII até ao XIX. As mudanças funcionais e de organização espacial são características de uma grande urbe, mais ainda quando aliadas a uma catástrofe como o terramoto de 1755. Onde se viu a oportunidade de melhorar o sistema de saneamento e alargar as vias da cidade. Com o desenvolvimento da cidade do século XIX verifica-se a uma maior urbanização e mais uma vez ao alargamento de vias que ainda remetiam para um urbanismo medieval.
5.8 LAZARETO, FORTALEZA E PRISÃO: ARQUEOLOGIA DO PRESÍDIO DA TRAFARIA (ALMADA)
Fabián Cuesta-Gómez / Catarina Tente / Sérgio Rosa / André Teixeira / Francisca Alves Cardoso / Sílvia Casimiro
As sondagens de diagnóstico efetuadas no âmbito do projeto de instalação do Instituto das Artes e Tecnologia (Universidade NOVA de Lisboa) no Presídio da Trafaria revelaram novos dados para a interpretação da história deste local. À primitiva área de quarentena definida no século XVI foram sendo acrescentadas novas funções de caráter comercial, religioso, militar, fiscal e prisional, até à profunda remodelação do espaço já no século XX, que implicou a construção das instalações do Presídio atualmente existente. Os vestígios desta evolução histórica foram revelos no decurso dos trabalhos arqueológicos. A intervenção efetuada reforça a importância de compreender os espaços urbanos e a sua evolução histórica e arquitetónica, de modo a desenhar e adaptar os projetos de reabilitação.
5.9 CONHECER O QUOTIDIANO DO CASTELO DE PALMELA ENTRE OS SÉCULOS XV E XVIII ATRAVÉS DOS ARTEFACTOS METÁLICOS EM LIGA DE COBRE
Luís F. Pereira
Entre 2018 e 2019 realizaram-se sondagens arqueológicas no Baluarte Sul do Castelo de Palmela revelando uma ampla diacronia de ocupação humana com materialidades desde a Pré-História até ao Período Contemporâneo. Foram recolhidos numerosos vestígios de materialidades quotidianas, nomeadamente cerâmicas, vidros, restos faunísticos e metais, na qual se destaca um variado conjunto artefactual de peças em liga de cobre que foram alvo do presente estudo. O estado de preservação das peças permitiram identificar funcionalidades e tipologias que contribuem para o enriquecimento do estado de conhecimento sobre o quotidiano doméstico e militar, sobre o vestuário, os adornos e outras materialidades pouco usuais no registo arqueológico do período moderno no Castelo de Palmela.
5.10 UM FORNO DE CERÂMICA DO INÍCIO DA ÉPOCA MODERNA NA RUA EDMOND BARTISSOL, SETÚBAL
Victor Filipe / Eva Pires / Anabela Castro
No decurso da intervenção arqueológica de diagnóstico realizada na Rua Edmond Bartissol, n.º 5-7, em Setúbal, foi identificado um forno de produção cerâmica. De dimensão relativamente modesta e plano ovalado, encontrava-se conservado apenas ao nível da câmara de combustão, estando as suas paredes totalmente vitrificadas. Das formas produzidas, que remetem para uma laboração situada entre os séculos XV e XVI, destaca-se, pela quantidade, as designadas formas pão-de-açúcar. De sublinhar também a ocorrência frequente de peças sobrecozidas, algumas deformadas e com as faces vitrificadas. A identificação deste forno reveste-se de particular importância na medida em que não era conhecido qualquer centro oleiro deste período nesta zona da cidade, do mesmo modo que se desconhecia a produção das formas pão-de-açúcar em Setúbal.
5.11 A NECRÓPOLE DA IGREJA VELHA DO PERAL (PROENÇA-A-NOVA)
Anabela Joaquinito / Francisco Henriques / Francisco Curate / Carla Ribeiro / Nuno Félix / Fernando Robles Henriques / João Caninas / Hugo Pires / Paula Bivar de Sousa / Carlos Neto de Carvalho / Isabel Gaspar / Pedro Fonseca
A intervenção arqueológica na Igreja Velha do Peral, integrada no Campo Arqueológico de Proença-a-Nova (CAPN 2021), teve como principais objetivos a elaboração da história deste templo, a partir de uma abordagem arqueológica e antropológica, a sua reabilitação e valorização pública. Durante a campanha de julho de 2021 foram realizadas catorze sondagens manuais de diagnóstico na nave da igreja e duas sondagens na capela-mor, até à rocha matriz. Cinco indivíduos foram identificados e exumados, três em sepulturas escavadas na rocha e in situ, um ossário, ossos espalhados por três covas e um acervo de artefactos de mais de 500 peças.
5.12 A MATERIALIZAÇÃO DA MORTE EM BUCELAS ENTRE OS SÉCULOS XV E XIX. RITUAIS, SEMIÓTICA E SIMBOLOGIAS
Tânia Casimiro / Dário Ramos Neves / Inês Costa / Florbela Estevão / Nathalie Antunes-Ferreira / Vanessa Filipe
Entre Maio de 2018 e Dezembro de 2019 foi identificado e escavado um contexto cemiterial em Bucelas (Loures), datado entre os séculos XV e XIX. Esta necrópole estaria possivelmente associada à Capela do Espírito Santo, atualmente desaparecida. Muitas das histórias acerca deste sítio ainda estão por contar, sobretudo as relacionadas com a cultura material associada às inumações. Os artefactos mais comuns são as contas, em osso ou vidro, seguidas por alfinetes, fivelas, colchetes, botões e numismas, mas também pendentes, anéis, brincos e pulseiras. Por que razão, num contexto religioso em que o cânone indicava que as exéquias deveriam ser desprovidas de materialidades, essas regras não foram cumpridas? E qual a importância económica, social, cultural e simbólica destes objetos?
5.13 FICAM OS OSSOS E FICAM OS ANÉIS: OBJETOS DE ADORNO E DE CRENÇA RELIGIOSA DA NECRÓPOLE DO CONVENTO DOS LÓIOS, LISBOA
João Miguez / Marina Lourenço
O antigo Convento dos Lóios situa-se numa plataforma da colina do castelo de São Jorge com uma vista privilegiada sobre a cidade de Lisboa e o Rio Tejo, demonstrando uma ocupação humana desde tempos remotos até aos dias de hoje. As sondagens arqueológicas de subsolo permitiram confirmar a presença do edifício conventual e de parte da sua Igreja. A escavação da necrópole revelou uma amostra que compreende 74 indivíduos, dez não adultos e 64 adultos de ambos os sexos que refletem diferentes tipos de alterações patológicas ósseas e dentárias. O espólio que acompanhava estes indivíduos é um interessante conjunto de objetos maioritariamente de índole religioso, onde se destaca a presença de um anel de ouro com a letra A impressa.
5.14 “NÃO HA SEPULTURA ONDE SE NÃO TENHAM ENTERRADO MAIS DE DEZ CADÁVERES”: AS VALAS COMUNS DE ÉPOCA MODERNA DA NECRÓPOLE DO HOSPITAL DOS SOLDADOS (CASTELO DE SÃO JORGE, LISBOA), UMA PRÁTICA FUNERÁRIA DE RECURSO
Carina Leirião / Liliana Matias de Carvalho / Ana Amarante / Susana Henriques / Sofia N. Wasterlain
Entre os séculos XVI e XVIII funcionaram na Rua do Recolhimento (Lisboa) um Hospital Militar e respetiva necrópole, cuja terceira fase de utilização revelou 18 valas comuns com 69 enterramentos. Os dados de antropologia funerária e paleodemografia foram analisados com o objetivo de perceber a relação entre este ritual funerário e as “pestes” da época. Os indivíduos, compatíveis com uma população militar, estavam maioritariamente inumados em valas com 3 e 4 enterramentos, em decúbito dorsal e orientação O-E/E-O. O espólio era escasso e pessoal. Este ritual parece refletir uma adaptação ao espaço disponível de inumação face ao número de mortes possivelmente causadas pelas “pestes” da época.
5.15 ESTUDO TAFONÓMICO DE UMA COLEÇÃO OSTEOLÓGICA PROVENIENTE DA IGREJA DA MISERICÓRDIA EM ALMADA
Maria João Rosa / Francisco Curate
A interpretação das modificações post mortem que podem ocorrer num determinado ambiente de enterramento e a listagem da presença de certos ossos e/ou regiões esqueléticas poderá auxiliar no desenvolvimento de métodos de identificação que não estejam confinados a ossos que tendencialmente se conservam menos. A coleção osteológica proveniente da Igreja da Misericórdia em Almada apresenta um estado razoável de conservação (26,91%) e, no que toca à preservação, encontra-se incompleta e mal preservada (68.04%). As alterações tafonómicas são, na sua maioria, de origem antrópica sendo relevantes para compreender o impacto que os humanos podem exercer sobre a preservação de uma coleção osteológica.
5.16 VARIABILIDADE FORMAL E PRODUTIVA DA CERÂMICA MODERNA NA CIDADE DE BRAGA: ESTUDO DE CASO
Lara Fernandes / Manuela Martins / Maria do Carmo Franco Ribeiro
Os estudos realizados sobre as dinâmicas económicas de Portugal em época moderna, e em especial aqueles que abordam os materiais cerâmicos, são ainda algo deficitários. Com efeito, os trabalhos realizados nas últimas décadas, na sua maioria, dedicam-se à sistematização da produção de olarias e fábricas, ou ao consumo desses objetos, seja em instituições políticas ou religiosas, seja a partir de intervenções parcelares realizadas em centros urbanos. Da mesma forma, a situação em Braga é semelhante, faltando um estudo sobre os processos económicos e sociais em época moderna que realize uma síntese dos padrões de consumo do material cerâmico na efervescente cidade pós-medieval. Assim procuramos com a investigação que temos vindo a realizar, dos materiais identificados em várias intervenções arqueológicas em Braga, colmatar este vazio. Neste trabalho procuramos apresentar o material cerâmico de época moderna, identificado na escavação realizada pela Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, no edifício n.º 20-28 da rua Afonso Henriques e n.º 1-3 da rua de Santo António das Travessas, através de uma abordagem tecnológica destes materiais, de forma a realizar uma primeira abordagem da variabilidade formal e produtiva, entre os séculos XVI e XVIII, na cidade de Braga, centrando-nos nas produções comuns e vidradas.
5.17 REPRESENTAÇÕES FEMININAS NA FAIANÇA PORTUGUESA DE SANTA CLARA-A-VELHA: DESIGUALDADE, SUBALTERNIZAÇÃO, EMANCIPAÇÃO
Inês Almendra Castro / Tânia Casimiro / Ricardo Costeira da Silva
Entre os séculos XVI e XVII as mulheres vão ser representadas na faiança portuguesa. Nessas representações podemos conjeturar a sua existência enquanto agentes sociais, vítimas de subalternização, apagamento social e desigualdade. As alusões mitológicas e religiosas apresentam a dualidade da sua natureza maléfica e do ideal virtuoso que ela deveria procurar atingir. As figurações “reais” mostram que era valorizada enquanto esposa, mãe, e “objeto” belo. Este artigo debate as representações femininas na faiança portuguesa recuperada nas escavações arqueológicas do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha com dois principais objetivos: compreender como é que estas mulheres eram vistas por aqueles que as representavam e tentar perceber o papel destes objetos na vida das religiosas, enquanto forma de subalternização e/ou emancipação, e de ligação ao mundo exterior e às suas identidades passadas.
5.18 PODER, FAMÍLIA, REPRESENTAÇÃO: A HERÁLDICA NA FAIANÇA DE SANTA CLARA-A-VELHA
Danilo Cruz / Tânia Casimiro / Ricardo Costeira da Silva
As intervenções arqueológicas realizadas no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha em Coimbra, permitiram reunir um conjunto vasto de objectos representativos do quotidiano daquela comunidade de clarissas, tais como uma das mais significativas colecções de cerâmica do século XVII. A este nível sinaliza-se o lote de faiança portuguesa constituído por milhares de fragmentos e onde consta iconografia variada. Entre os temas representados, destaca-se um elevado número de recipientes com representações heráldicas. No presente texto, partindo da identificação dos diferentes brasões representados, apresenta-se uma reflexão centrada nas desigualdades socioecónomicas entre as habitantes do mosteiro e discute-se a importância simbólica destes objectos no seu quotidiano.
5.19 A CHACOTA DE FAIANÇA A USO E O SIGNIFICADO SOCIAL DO SEU CONSUMO EM LISBOA, NOS MEADOS-FINAIS DO SÉCULO XVII: A AMOSTRAGEM DO HOSPITAL DOS PESCADORES E MAREANTES DE ALFAMA
André Bargão / Sara da Cruz Ferreira / Rodrigo Banha da Silva
Em dezembro de 2005, foi conduzida uma intervenção arqueológica de emergência no imóvel com os números 12-14 do Beco do Espírito Santo, em Alfama, conduzida por uma equipa dos extintos Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade e Gabinete Técnico de Alfama (C.M.L.). Na estratigrafia identificada, entre os depósitos mais antigos, registou-se uma U.E. muito rica em materiais de diversas naturezas, que constituí uma relevante amostragem de meados a finais do século XVII, datada, na sua essencia, através da faiança portuguesa. A identificação de um pequeno conjunto de recipientes em chacota de faiança, de morfologias variadas, permite excluir a relação deste com contextos de produção, sugerindo-se assim, o seu descarte após o seu uso que, não se tratando, por certo, de um processo inédito em Lisboa, registando-se paralelos datados do século XVII aos meados do século XVIII noutros pontos da cidade.
5.20 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE OS ARTEFACTOS EM LIGAS METÁLICAS DESCOBERTOS NO PALÁCIO SANT'ANNA EM CARNIDE, LISBOA
Carlos Boavida / Mário Monteiro
Embora os vestígios da presença humana em Carnide sejam anteriores à Idade Média, foi nessa época que o local se tornou importante por ser uma relevante área de produ-ção de cereais na periferia da cidade de Lisboa. Alvo de peregrinação no âmbito das festas da Senhora do Cabo, o movimento humano tornou-se ainda mais presente após o Milagre da Luz (1463), que para o ali atraiu todo o tipo de gentes dando origem a grandes propriedades. Erguido no século XVIII, mas com eventual origem anterior, o Palácio Sant’Anna, não foi excepção. É propósito deste artigo dar a conhecer o conjunto de artefactos metálicos descobertos naquele palácio, durante os trabalhos arqueológicos desenvolvidos pela EMERITA, entre 2010 e 2011.
5.21 OS CACHIMBOS CERÂMICOS DOS SÉCULOS XVII E XVIII DO PALÁCIO ALMADA-CARVALHAIS (LISBOA)
Sara da Cruz Ferreira / André Bargão / Rodrigo Banha da Silva / Tiago Nunes
O Palácio Almada-Carvalhais (M.N.) equivale a um importante espaço nobiliárquico lisboeta com origem em 1545, alvo de profundas remodelações que lhe configuram uma arquitetura essencialmente renascentista/barroca. Em vários dos contextos exumados nos trabalhos arqueológicos foi recolhido um conjunto de 42 fragmentos de cachimbos cerâmicos, executados em pastas caulíniticas, à época designados por «cachimbos de gêsso», e em “barro vermelho”, que sabemos hoje equivaler a uma produção seguramente lisboeta, para já documentada arqueologicamente na encosta do Monte da Graça. O balanço quantitativo do conjunto de cachimbos do Palácio Almada-Carvalhais mostra um grupo minoritário de exemplares de produção lisboeta, por comparação com o número mais vasto daqueles em pastas cauliníticas, estes seguramente elaborados em centros produtores britânicos e neerlandeses. Procura-se enquadrar de um ponto de vista social a amostragem e tentando também construir de forma diacrónica uma leitura das dinâmicas aquisitivas lisboetas do objeto e do hábito de o fumar em Época Moderna.
5.22 TRÓIA FUMEGANTE. OS CACHIMBOS CERÂMICOS MODERNOS DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO DE TRÓIA
Miguel Martins de Sousa / Tânia Casimiro / Filipa Araújo dos Santos / Mariana Nabais / Inês Vaz Pinto
No ano de 2021 foram executados trabalhos arqueológicos, distribuídos por onze áreas distintas, no sítio arqueológico de Tróia. Deste modo, tornou-se possível identificar padrões quotidianos alusivos ao período pós-medieval, em complemento dos notáveis testemunhos romanos do local. Na intervenção arqueológica mencionada, em particular em seis das áreas levantadas, foram recolhidos um total de 172 fragmentos que expressam, pelo menos, 18 cachimbos oriundos de Inglaterra, dos Países Baixos e de uma produção nacional deste objeto. A partir destes objetos, esta abordagem pretende, em primeira instância, apresentar esclarecidamente o conjunto de cachimbos de Tróia, mas também aduzir este estudo arqueológico ao encontro de outras interpretações relacionadas com o fenómeno da “cultura do tabaco” durante os séculos XVII e XVIII.
5.23 UM COPO PARA MUITAS GARRAFAS. ALGUMAS PALAVRAS SOBRE UM CONJUNTO DE VIDROS MODERNOS E CONTEMPORÂNEOS ENCONTRADOS NA PRAIA DA ALBURRICA (BARREIRO)
Carlos Boavida / António González
A praia da Alburrica integra um conjunto de pequenas enseadas constituídas por camadas de argilas protegidas por recife formado por ostras. Aqui existiram marinhas de sal em Época Romana, que foram reutilizadas na Idade Média. Estas enseadas foram usadas depois como caldeiras para moinhos de maré, dos quais ainda subsistem vestígios. Nas últimas décadas, a ondulação provocada pela passagem dos catamarãs levou à erosão do recife e à formação de uma extensa duna, dando origem à praia. Tal facto levou igualmente ao desgaste das argilas ali existentes, trazendo para o areal fragmentos cerâmicos e líticos de várias cronologias, arrastados pelas marés, provenientes de descartes ou naufrágios. É objectivo deste trabalho dar a conhecer fragmentos de peças de vidro que ali foram recolhidos.
5.24 A GRAN PRINCIPESSA DI TOSCANA, UM NAUFRÁGIO DO SÉCULO XVII NO CABO RASO (CASCAIS)
Sofia Simões Pereira / Francisco Mendes / Marco Freitas
A informação histórica sobre acidentes marítimos no Cabo Raso destaca a perda do navio florentino a Gran Principessa di Toscana, que ali naufragou em 1696, proveniente de Itália. Os vestígios deste navio foram identificados na década de 1960, quando um conjunto de canhões de bronze foi descoberto por um mergulhador amador. Nos anos que se seguiram o sítio arqueológico foi alvo de várias pilhagens. Posteriormente, na década de 1980 foram ali realizados trabalhos pioneiros de registo subaquático, promovidos pelo Museu do Mar de Cascais. Este apresenta uma análise aos materiais recuperados no sítio. A cultura material é constituída maioritariamente por peças de artilharia. A nível da vida a bordo destaca-se materiais de uso quotidiano do navio, como instrumentos de navegação.
5.25 CONDIÇÕES AMBIENTAIS E CONTEXTO ARQUEOLÓGICO NA MARGEM ESTUARINA DE LISBOA: DADOS PRELIMINARES DA SONDAGEM ESSENTIA (AV. 24 DE JULHO | RUA DOM LUÍS I)
Margarida Silva / Ana Maria Costa / Maria da Conceição Freitas / José Bettencourt / Inês Mendes da Silva / Tiago Nunes / Mónica Ponce / Jacinta Bugalhão
O projeto “Lisbon Stories” tem como objetivo o estudo da evolução paleoambiental da margem norte do estuário do Tejo, para compreender a sua evolução natural, a contribuição antrópica e como foi utilizada em diferentes períodos históricos, desde a Idade do Ferro até aos nossos dias. Neste trabalho, apresentam-se os resultados das análises realizadas aos sedimentos de sete sondagens recolhidas durante uma escavação arqueológica realizada em Lisboa – Avenida 24 de Julho, Boqueirão dos Ferreiros, Rua D. Luís I – Boavista 5 e Boavista 4 (Essentia) (CNS 41345), que abrangem pelo menos os períodos romano, moderno e contemporâneo. Os dados preliminares apontam para uma sedimentação em condições subtidais a subtidais altas, de baixa energia, similares às condições identificadas noutras sondagens estudadas nesta zona.
5.26 EVOLUÇÃO AMBIENTAL DO ESTUÁRIO DO RIO CACHEU, GUINÉ-BISSAU: DADOS PRELIMINARES
Rute Arvela / Ana Maria Costa / Maria da Conceição Freitas / Rui Gomes Coelho
Entre os séculos XV e XIX, mais de 12 milhões de pessoas foram escravizadas no continente africano e transportadas, na sua maioria, para as Américas. As condições ambientais dos locais de origem e destino dessas pessoas foram alteradas devido ao abandono de terras no interior africano, ao incremento da produção agrícola nas regiões de destino, e ao desenvolvimento de economias baseadas na exploração de trabalho escravizado. A sondagem Cacheu1, recolhida junto a um dos mais importantes portos do tráfico transatlântico entre os séculos XVI e XIX, revelou quatro unidades sedimentológicas com características distintas que retratam a evolução ambiental do estuário de Cacheu. A datação por 14C de uma amostra da base da sequência sedimentar determinará a sua cronologia. Estes resultados, aliados ao estudo dos materiais orgânicos contidos no sedimento, permitirão reconstruir a evolução das condições ambientais no estuário e compreender a sua relação com o colonialismo e o tráfico de pessoas escravizadas.
5.27 EXTRAIR INFORMAÇÃO CULTURAL DE MADEIRAS NÁUTICAS: UMA EXPERIÊNCIA EM LISBOA
Francisco Mendes / José Bettencourt / Marco Freitas / Sofia Simões Pereira
O presente trabalho tem por principal objetivo o de extrair informação cultural de madeiras náuticas utilizando uma metodologia simplificada e de fácil implementação. Utilizando o arquivo digital criado durante a escavação e registo da embarcação Bom Sucesso 1, integralmente registada por fotogrametria e scanner 3D, estabelecemos as principais características morfológicas da madeira a ter em conta e o tipo de informação que estas nos fornecem. Foi ainda tentada uma primeira abordagem dendro-arqueológica, com base na análise dos anéis da madeira, permitindo estabelecer idades mínimas no momento do abate e o crescimento médio anual das árvores.
5.28 FERRAMENTAS, CARPINTEIROS E CALAFATES A BORDO DA FRAGATA SANTO ANTÓNIO DE TANÁ (MOMBAÇA, 1697)
Patrícia Carvalho / José Bettencourt
Nos navios envolvidos em viagens transoceânicas do período moderno, a manutenção e reparação do casco ou de outros equipamentos por oficiais mecânicos embarcados era essencial e a sua presença a bordo infere-se no registo arqueológico através dos seus instrumentos. Este trabalho aborda as figuras do carpinteiro naval e do calafate a partir de um conjunto de instrumentos recuperado na fragata Santo António de Taná, perdida em Mombaça em 1697. Além do estudo material pretende-se refletir sobre a importância social destes oficiais na logística naval no século XVII, incluindo a sua presença em vários pontos de apoio logístico ao longo da rota que ligava Lisboa ao Oriente.
5.29 PAREDE 1, CARCAVELOS 12 E CARCAVELOS 13: TRÊS NAUFRÁGIOS DA GUERRA PENINSULAR?
José Bettencourt / Augusto Salgado / António Fialho / Jorge Freire
A investigação efectuada no âmbito do SUNK permitiu identificar vários sítios, destacando-se três naufrágios – Parede 1, Carcavelos 12 e Carcavelos 13, que mostram características que apontam para o século XVIII ou inícios do XIX e para uma utilização militar. Parede 1 surge como um tumulus, constituído por canhões e pelouros de ferro, concrecionados, carga que ocuparia todo o porão do navio. Carcavelos 12 corresponde também a uma carga militar constituída por caixas de madeira com pelouros em ferro, pelouros a granel e pelo menos seis bocas de fogo em bronze de pequeno calibre. Carcavelos 13 mostra igualmente uma extensão concreção com pelouros e pelo menos três canhões em ferro. Este artigo apresenta os resultados preliminares do seu estudo.
5.30 ESTUDO ZOOARQUEOLÓGICO E TAFONÓMICO DE UM SILO DE ÉPOCA MODERNO-CONTEMPORÂNEA DA CASA CORDOVIL, ÉVORA
Catarina Guinot / Nelson J. Almeida / Leonor Rocha
Este artigo apresenta os resultados do estudo arqueofaunístico da escavação de um silo realizada em 2022 na Casa Cordovil, em Évora. Trata-se de uma casa residencial de uma família nobre, residente em Évora, instalada desde o século XVI. Identificou-se uma prevalência de mamíferos (essencialmente gado doméstico) e avifauna (sobretudo galinha), sendo o grupo dos bivalves residual. Registaram-se indicadores tafonómicos, como marcas de corte, marcas de mordida, alterações térmicas, entre outros. As informações sobre a exploração destes recursos foram usadas para comparar os dados obtidos com outros coetâneos.
5.31 UMA APROXIMAÇÃO À ARQUEOLOGIA DE PAISAGEM: A PAISAGEM FLUVIAL E AS DIMENSÕES DA SUA EXPLORAÇÃO, COMUNICAÇÃO E OCUPAÇÃO
Patrícia Alho / Vanda Luciano
A localização de Mafra não é aleatória, encontra-se entre dois cursos de água, o Río de Couros e o Río Gordo, fica também perto da Ribeira de Cheleiros, para além da proximidade ao mar. A sua topografia oferece também excelentes condições para o seu desenvolvimento “urbano” devido a planaltos calcários, vales profundos e bem marcados e uma rede hidrográfica que contribui para a produtividade agrícola. Esta riqueza natural entre vales profundos, envolvidos por paisagens marcadas por uma densidade de fracturas, com diferentes tipos de planaltos, por vezes calcários, margosos, zonas aluviais, formações basálticas, alternadas por rochas duras, mais permeáveis e elásticas, permite-nos perceber a escolha dessas comunidades para a ocupação desse espaço.
5.32 DOS ARQUIVOS AO TRABALHO DE CAMPO: O ESTUDO DA FORTALEZA DE SANTA CATARINA DE RIBAMAR (PORTIMÃO)
Bruna Ramalho Galamba
A Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar, localizada em Portimão, nunca fora estudada na sua vertente da história, da arquitetura, e as alterações ao longo dos anos. As menções prévias a este local eram feitas por base em comparações com outros locais. Em 2020, foi feito o primeiro estudo fotogramétrico do monumento e com estes dados, deu-se início a uma investigação mais aprofundada do monumento com o objetivo de conhecer a Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar. Comprovou-se uma sólida ligação dos arquivos à arqueologia no estudo deste caso. Foi possível reunir dezenas de arquivos que contavam a história da fortaleza e as suas obras, desde que foi conceptualizada em 1617 até ao ano de 2018 e que eram visíveis em registo arqueológico.
5.33 PALÁCIO VAZ DE CARVALHO, A DIACRONIA DE UM SÍTIO: DA PRÉ-HISTÓRIA À CONTEMPORANIDADE
Anabela Sá / Inês Mendes da Silva
Os trabalhos de reabilitação do Palácio Vaz de Carvalho, localizado no Campo dos Mártires da Pátria n.os 60-65 (Lisboa) permitiram o registo de uma longa ocupação deste local, desde a pré-história recente aos tempos actuais. Relativamente ao edifício do Palácio, observou-se uma sequência de fases construtivas que permitiu compreender a articulação do espaço habitacional com os espaços de lazer e sua evolução ao longo do tempo. Entre os diferentes contextos identificados, destaca-se um relevante conjunto de estruturas relacionadas com a vivência dos jardins.
5.34 UM OLHAR SOBRE O PASSADO: APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA NA FIGUEIRA DA FOZ
Bruno Freitas / Sérgio Gonçalves / André Donas-Botto
Com este artigo os autores pretendem dar a conhecer os dados recolhidos durante uma intervenção arqueológica no âmbito de uma empreitada pública, realizada na cidade da Figueira da Foz (Coimbra, Portugal). Os vestígios detetados remetem-nos para um contexto oitocentista, época em que foram desenvolvidos importantes esforços para melhorar as condições desta cidade assim como do seu porto e barra.
5.35 TODOS OS METROS CONTAM, 200 MIL ANOS NUM QUARTEIRÃO? O CASO DAS OLARIAS DE LEIRIA
André Donas-Botto / Ana Rita Ferreira / Cláudia Santos / Luís Costa
No decorrer de trabalhos de arqueologia preventiva num quarteirão compreendido entre as ruas: Rua das Olarias, R. da Fonte do Pocinho e R. dos Mártires em Leiria foi identificada uma complexa realidade arqueológica onde presenciamos uma diacronia ocupacional entre o Paleolítico Médio e alvorecer da contemporaneidade. Foi possível desenvolver um exercício primário de Arqueogeografia, nomeadamente de morfologia urbana, para compreender a evolução do quarteirão entre a antiga rua da mouraria e rua das olarias. Além de níveis de cascalheira com indústria lítica, foram identificados complexos de produção oleira, bem como respetivas áreas de descarte. Conjuntamente com estes testemunhos foi ainda verificada a existência de uma necrópole, com 58 inumações primárias e 8 ossários, atribuíveis entre o período medieval e moderno.