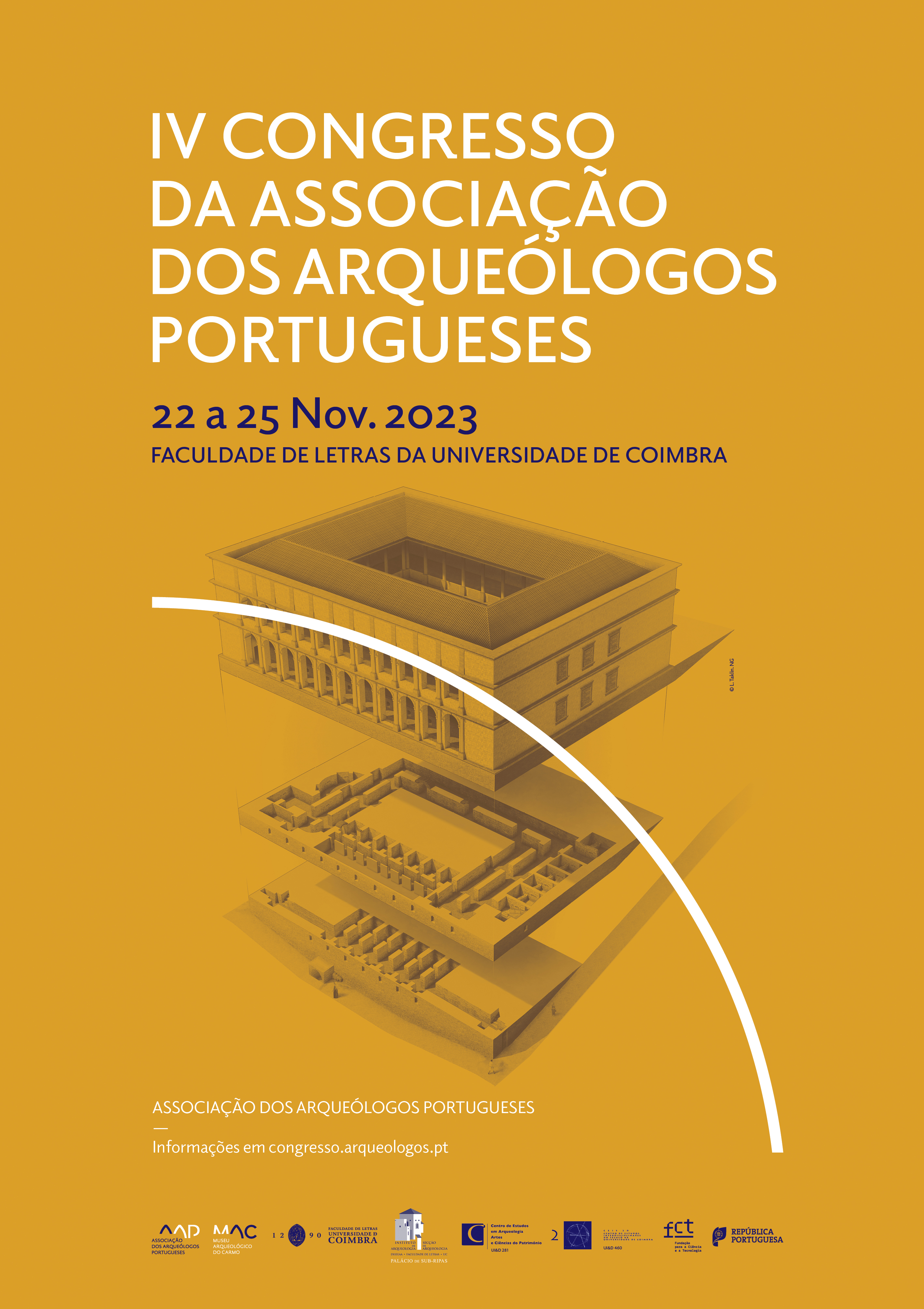Arqueologia em Portugal: 2023 - Estado da Questão
6. Época Contemporânea
6.1 NAVIOS DE FERRO: CONTRIBUTOS PARA UMA ABORDAGEM ARQUEOLÓGICA AOS NAUFRÁGIOS DE IDADE CONTEMPORÂNEA EM PORTUGAL
Marco Freitas / Francisco Mendes / Sofia Simões Pereira
Com o crescente interesse nos contextos arqueológicos subaquáticos de Idade Contemporânea, este artigo procura explorar o interesse arqueológico que os navios construídos ao longo do século XIX a ferro e vapor, podem ter para a criação de um discurso histórico baseado nos remanescentes arqueológicos. Este é um século que representa o fim gradual da madeira e da vela na grande navegação, sendo analisadas as diferentes soluções aplicadas pelos construtores nas principais componentes de construção e propulsão dos navios. A estabilização destes navios na segunda metade do século XIX, compreende o desenvolvimento tecnológico ocorrido, que permitiu um baixo custo de viagem sem depender de fatores naturais.
6.2 DAS PELES E DOS REBITES: O PROCESSO DE INVENTARIAÇÃO ARQUEOLÓGICO DA CENTRAL DO BIEL E DA FÁBRICA DE CURTUMES DO GRANJO (VILA REAL)
Pedro Pereira / Fernando Silva
No decurso do processo de reabilitação e musealização da Central Hidro-eléctrica do Biel e da Quinta e Fábrica de Curtumes do Granjo, o Município de Vila Real contratualizou um trabalho de consultadoria para avaliar os procedimentos a adoptar e para a sua execução na primeira fase de execução da estrutura de musealização da Central do Biel e Quinta do Granjo. Anteriormente à fase de execução da obra, foi determinado, em conjunto com o Município de Vila Real e a Direcção Regional da Cultura do Norte, que seria necessário realizar uma recolha e inventariação sistemática de todo o espólio existente no conjunto de edifícios que seriam alvo de reabilitação. Paralelamente, foi acompanhada toda uma série de procedimentos, tanto de protecção preventiva como de limpeza e estabilização de elementos presentes nas várias estruturas. A experiência de criar procedimentos de recolha, sistematização e de uma base de dados específica para materiais que normalmente não são associados ao estatuto de objectos arqueológicos, tal como o trabalho, ainda em curso, de identificação e conservação de milhares de peças procedentes de um conjunto patrimonial que esteve em risco durante décadas tem permitido melhor compreender uma História, ainda que recente, mas já em perigo de se perder.
6.3 SEMINÁRIO MAIOR DE COIMBRA: O CONTRIBUTO DA ARQUEOLOGIA NUM ESPAÇO EM REABILITAÇÃO
Constança dos Santos / Sónia Filipe / Paulo Morgado / Gina Dias
Apresenta-se uma primeira síntese dos trabalhos desenvolvidos no Seminário Maior de Coimbra, Monumento Nacional, ao abrigo de uma vasta intervenção de arqueologia preventiva, quer no que concerne aos resultados decorrentes das sondagens arqueológicas prévias, quer aos resultados provenientes do acompanhamento arqueológico das ações com afetação patrimonial resultantes da execução do projeto de reabilitação, processo que se encontra em curso. Os trabalhos levados a cabo e os resultados obtidos permitem comprovar a importância da participação da Arqueologia no processo de reabilitação de espaços e edifícios multisseculares, tendo sido possível resgatar e estudar um conjunto muito abrangente de informações e testemunhos materiais, que apoiam um (melhor) conhecimento do espaço e da sua evolução, a par dos testemunhos dos ocupantes que ao largo de mais de dois séculos habitam, estudam e participam da vida comunitária proporcionada pelo Seminário Maior de Coimbra.
6.4 PARADIGMAS DE PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL NAS LINHAS DE TORRES VEDRAS. ABORDAGEM ÀS INTERVENÇÕES REALIZADAS NO FORTE DA ARCHEIRA (TORRES VEDRAS), NO FORTE 1.º DE SUBSERRA E NA BATERIA NOVA DE SUBSERRA (VILA FRANCA DE XIRA)
João André Perpétuo / Miguel Martins de Sousa / João Ramos
Celebrou-se em 2010 o bicentenário da construção do sistema defensivo das Linhas de Torres Vedras, período de desenvolvimento científico e pedagógico deste monumento. Tendo em consideração a sua dimensão, novos projetos têm abrangido as Linhas de Torres, conforme diferentes objetivos e meios disponíveis. Em 2021 a ArqueoHoje desenvolveu uma intervenção arqueológica e de conservação e restauro no Forte da Archeira (Torres Vedras), ocasionada pelo estado de integridade no acesso e no través do forte. Em diferente contexto, no ano de 2022 promoveram-se trabalhos arqueológicos prévios no Forte 1.º de Subserra e na Bateria Nova de Subserra (Vila Franca de Xira), particularmente no paiol do forte e em sete canhoeiras das duas estruturas defensivas, revelando novas leituras destes elementos monumentais.
6.5 PAVIMENTOS EM MÓS NA ARQUITETURA SALOIA: NOVOS DADOS NA AMADORA
Nuno Dias / Catarina Bolila / Vanessa Dias / Gisela Encarnação
Característica única em toda a área ocidental da estremadura portuguesa, a utilização de mós de moinho como pavimento na construção das casas com características saloias, na área da Amadora e Sintra, representa um parâmetro etnográfico único para a caracterização das populações que habitaram e trabalharam na região durante os séculos XVIII e XIX. São vários os exemplos que se conhecem distribuídos pelos núcleos antigos que ainda persistem entrelaçados na intensa malha urbana da atual cidade da Amadora. Alguns ainda se conservam, e nalguns casos podem ser observados in situ, outros foram registados durante as demolições dos edifícios a que pertenciam, ficando apenas o registo da sua existência. Na sequência de acompanhamento arqueológico das obras de reabilitação de edifícios existentes na Rua Elias Garcia e na Travessa da Falagueira, sob os alicerces de um edifício de piso térreo, observou-se a existência de quatro mós que se sobrepunham a um pavimento formado também por mós, adaptadas ao espaço.
6.6 O TEJO E A INDUSTRIALIZAÇÃO: COMO LISBOA “INVADIU” O RIO NO SÉCULO XIX
Inês Mendes da Silva
O século XIX em Lisboa marca um momento fulcral na História da cidade e do seu desenvolvimento. Desde finais do século XVIII que pairava sobre a capital a necessidade premente de sanear as zonas ribeirinha, por onde pespontavam indústrias de natureza diversa. O Bairro da Boavista, pela sua localização, constitui-se como um ponto fundamental no processo de Industrialização da capital. Desde o Jardim do Tabaco até à Boavista, são inúmeros os casos em que a cidade ganhou espaço ao rio, permitindo o crescimento das diversas indústrias: a Boavista foi uma das zonas onde a cidade mais espaço conquistou ao rio. Percorrendo a margem norte do Tejo, serão destacados alguns dos exemplos que mais contribuíram para este desenvolvimento, com particular incidência para a zona da Boavista, com as suas inúmeras siderurgias, metalúrgias, fábricas de gás e vidro, entre outras.
6.7 AS ALCAÇARIAS DO DUQUE. A REDESCOBERTA DOS ÚLTIMOS BANHOS PÚBLICOS DE ALFAMA
Filipe Santos
Trabalhos arqueológicos desenvolvidos no âmbito de um projecto de reabilitação gizado para um edifício de traça oitocentista sito no bairro histórico de Alfama (Lisboa), permitiram não só resgatar as evidências materiais conotadas com a sua derradeira utilização enquanto balneário público (alcaçarias), como enquadrá-las, para usufruto de todos, dada a sua importância enquanto testemunho raro e monumental do singular aproveitamento hídrico desta parte da cidade de Lisboa, no espaço comercial redesenhado para o efeito. A par dos aspectos ligados à própria diacronia das Alcaçarias do Duque, aos espaços e dinâmicas concretos deste complexo balnear, serão de igual modo atendidas algumas considerações sobre o contexto histórico-arqueológico reconhecido para a área precisa de análise, de acordo, também, com os próprios trabalhos de arqueologia.
6.8 MEMORIAL DA SERRALHARIA – ARQUEOLOGIA DO PASSADO RECENTE NO HOSPITAL DE SÃO JOSÉ
João Sequeira / Carlos Boavida / Afonso Leão
Este artigo é um contributo para a memória operária da cidade de Lisboa a partir da identificação e levantamento de uma serralharia em risco de colapso no espaço do Hospital de São José. Situada numa área com necessidade de recuperação, a serralharia periclitante pela passagem das décadas, ainda alberga maquinaria industrial e é uma oficina de recurso para além de espaço de armazenamento de materiais. Estando no horizonte, por questões de segurança, a eventual demolição do imóvel, os autores uniram esforços para preservar a memória histórica, antropológica, arqueológica e etnográfica de um edifício que no fundo recolhe reacções silenciosas e momentos de ponderação e reflexão quando é mencionado este facto: José Saramago trabalhou aqui.
6.9 KANA, FORNADJA Y KUMUNIDADI: UM CASO DE ESTUDO DA PRODUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DA CANA SACARINA NA RIBEIRA DOS ENGENHOS (ILHA DE SANTIAGO)
Nireide Pereira Tavares
O cultivo e a transformação da cana sacarina em Cabo Verde são atividades recorrentes e dilatadas no tempo, a contar desde os primórdios da introdução da planta até os dias de hoje. Com o objetivo da identificação dos vestígios materiais destas atividades ancestrais, com especial atenção às técnicas, os saberes e os utensílios tradicionais, hoje em desuso, selecionou-se uma área privilegiada para o estudo de caso, a Ribeira dos Engenhos no interior da ilha de Santiago. Apresentam-se os principais resultados dos trabalhos, que permitiram identificar vários sítios e recolher novos dados acerca da distribuição espacial e caracterização destes antigos engenhos tradicionais de transformação da cana, para além das informações orais conexas que permanecem ainda vivas na memória da população.
6.10 PERSONAGENS ESCONDIDAS: À PROCURA DAS EMOÇÕES ESQUECIDAS DAS MULHERES NA INDÚSTRIA PORTUGUESA. UMA ANÁLISE ARQUEOLÓGICA ATRAVÉS DE NOVAS MATERIALIDADES
Susana Pacheco / Joel Santos / Tânia Casimiro
As emoções são um dos aspectos mais difíceis de entender em Arqueologia. Dependendo da cronologia ou do tipo de contexto que estudamos, esta questão pode tornar-se ainda mais complexa. Um desses exemplos é o das mulheres que trabalhavam na indústria, frequentemente secundarizadas e ignoradas. O presente artigo tem como objectivo tentar contrariar essa situação. Para tal, um diferente tipo de materialidades, menos convencional, será analisado. As fotografias – o nosso artefacto arqueológico – serão usadas para tentar descodificar as emoções dessas mulheres, frequentemente silenciadas pela sociedade em que viviam, e que permaneceram invisíveis na historiografia durante décadas. Por último pretendemos discutir o papel que nós, arqueólogos, devemos ter na construção de novas narrativas que dêem voz a estes agentes.
6.11 SÓS MAS NÃO ESQUECIDOS. POR UMA ARQUEOLOGIA DA SOLIDÃO
Joel Santos / Susana Pacheco
A solidão é um problema atual com uma dimensão à escala mundial. A Arqueologia, infelizmente, tem-se abstraído do seu estudo, não contribuindo para um maior conhecimento da mesma e respetiva mitigação. Este artigo tem como objetivo demonstrar que é possível fazê-lo. Para isso, após uma primeira reflexão teórica, apresentamos sete situações onde é possível identificar e estudar a solidão. Ainda que conscientes das limitações dos agrupamentos, para simplificar, dividimos os casos em três grandes grupos: situações provocadas por estruturas da sociedade, situações “ignoradas” pela sociedade e estratégias individuais para mitigação da solidão. Pretendemos com este primeiro passo, estimular diferentes abordagens e visões para o futuro estudo da solidão através da arqueologia.