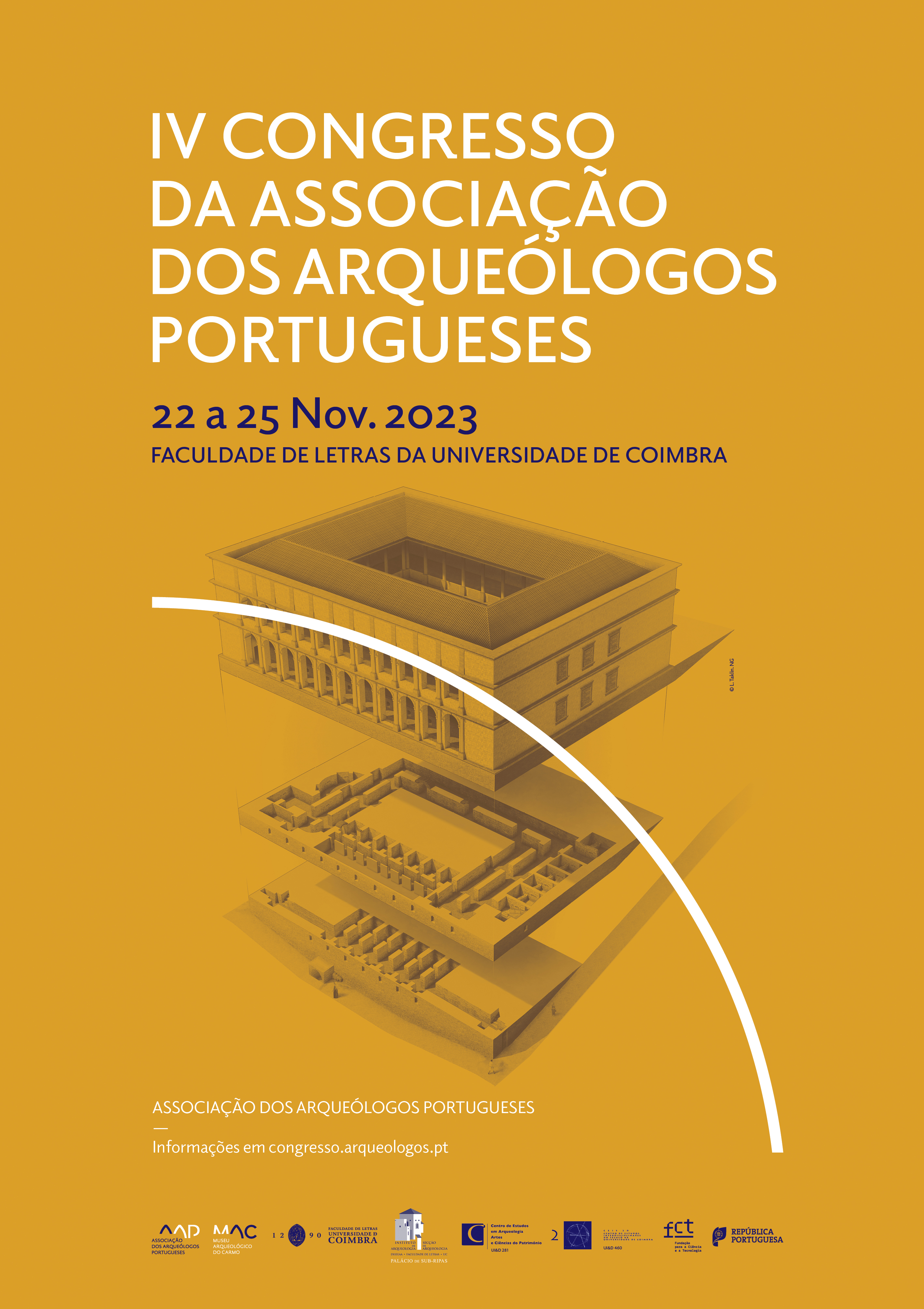Arqueologia em Portugal: 2023 - Estado da Questão
4. Época Medieval
4.1 A NECRÓPOLE DA ALTA IDADE MÉDIA DO CASTRO DE SÃO DOMINGOS (LOUSADA, PORTUGAL)
Paulo André Pinho Lemos / Manuel Nunes / Bruno M. Magalhães
No decorrer do projeto de investigação ‘Escavação, estudo e musealização da Casa Romana do Castro de São Domingos’ (Lousada, Portugal) foram identificadas, até ao momento, 26 sepulturas. Em nenhum dos 23 sepulcros escavados, incluindo três sepulcros identificados como pertencentes a indivíduos não-adultos, foram encontrados ossos humanos preservados. Foi apenas recuperada uma fivela em bronze como espólio associado. A arquitetura funerária permitiu identificar três fases distintas de enterramentos. A proximidade de vias é por vezes apontada como condicionante para a localização das sepulturas. Através da análise de paralelos existentes é proposta uma cronologia para utilização da necrópole entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média que apenas futuras campanhas arqueológicas poderão ou não confirmar.
4.2 A TRANSFORMAÇÃO E APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO PELOS EDIFÍCIOS RURAIS, ENTRE A ANTIGUIDADE TARDIA E A IDADE MÉDIA, NO TROÇO MÉDIO DO VALE DO GUADIANA (ALENTEJO, PORTUGAL)
João António Ferreira Marques
Os edifícios podem ser caraterizados como objetos funcionais em que os materiais ou elementos são estruturados e organizados para que estes funcionem para uma determinada finalidade ou conjunto de finalidades. Acresce a estes, a dimensão do estilo, constituída pela decoração, embelezamento ou mesmo modificações de forma, que se tornam um meio pelo qual as identidades culturais são conhecidas e perpetuadas. Os edifícios reúnem assim, elementos de um objeto físico com uma certa forma, mas também criam e ordenam os volumes de espaço vazio, resultando num padrão com significado cultural. Os pequenos sítios e conjuntos rurais intervencionados em finais dos anos 90 do século XX no âmbito da minimização de impactes da construção da Barragem de Alqueva contribuíram para o conhecimento do povoamento rural na região submergida pelo seu regolfo, designadamente entre a Antiguidade Tardia e a Idade Média. Os locais estudados apresentam diferentes orgânicas internas, com adaptabilidade e modelação às necessidades da comunidade e ao terreno. A arqueologia doméstica é, assim, um meio essencial para identificar a organização espacial destas pequenas unidades ou núcleos rurais, bem como para tipificar a respetiva arquitetura e identificar o uso social e relacioná-la com a respetiva identidade cultural.
4.3 A RECONFIGURAÇÃO DO ESPAÇO RURAL NA ALTA IDADE MÉDIA. ANÁLISE DOS MARCADORES ARQUEOLÓGICOS NO ALTO ALENTEJO
Rute Cabriz / Sara Prata
O artigo analisa os vestígios materiais pós-romanos identificados nas villae do Alto Alentejo a partir de uma revisão crítica da documentação legada. Os trabalhos realizados consistiram na análise e sistematização dos dados disponíveis nos processos de sítio/trabalho arqueológico, consultados no Arquivo de Arqueo- logia Portuguesa (DGPC). Apresentam-se os resultados da análise de 12 sítios arqueológicos. Os dados obtidos são considerados à luz da informação arqueológica recuperada nos estudos de povoamento rural alto-medieval neste mesmo território, inserindo-se num projeto de investigação mais abrangente. Consideramos que esta abordagem comparativa permitirá uma caracterização mais aprofundada dos diferentes processos -económicos, sociais, culturais e religiosos- inerentes à transformação das paisagens rurais no início da Alta Idade Média.
4.4 O CASTELO DE VALE DE TRIGO (ALCÁCER DO SAL): DADOS DAS INTERVENÇÕES ARQUEOLÓGICAS
Marta Isabel Caetano Leitão
O Castelo de Vale de Trigo trata-se de uma fortificação do Período Islâmico, implantada em dois cerros elevados, no interior do território de Alcácer do Sal. O sítio arqueológico foi identificado pela autora do artigo, em Maio de 2019, e entre Junho e Dezembro de 2020 efectuaram-se trabalhos de escavação arqueológica que colocaram a descoberto parte da muralha que circundava o promontório Norte. O povoado associado situava-se a cerca de 600 m daquele dispositivo defensivo e ali identificámos fragmentos de cerâmicas comuns islâmicas com uma cronologia entre os séculos VIII e XII.
4.5 CONVENTO DE NOSSA SENHORA DO CARMO DE MOURA, UM CONJUNTO DE SILOS MEDIEVAIS ISLÂMICOS: DADOS PRELIMINARES DE UMA DAS SONDAGENS ARQUEOLÓGICAS DE DIAGNÓSTICO
Vanessa Gaspar / Rute Silva
Situada na margem esquerda do rio Guadiana, Moura goza de uma situação geográfica privilegiada. A proximidade a importantes cursos de água possibilita a existência de terrenos férteis, propícios à agricultura. Esta situação permitiu que comunidades humanas ocupassem este território desde tempos remotos. Com uma forte ocupação árabe, a cidade foi conquistada em definitivo no século XIII, sendo entregue a defesa deste território aos cavaleiros da Ordem do Hospital. A fundação do Convento do Carmo surge desta necessidade de defesa. As escavações realizadas até hoje revelaram uma necrópole medieval, contemporânea à utilização deste convento, bem como uma ocupação anterior, como são exemplo os silos e as cerâmicas aqui apresentadas.
4.6 POTES MELEIROS ISLÂMICOS – CONTRIBUTO PARA O ESTUDO DA IMPORTÂNCIA DO MEL NA IDADE MÉDIA
Rosa Varela Gomes
Nas escavações arqueológicas que realizámos, na Ponta do Castelo (Aljezur) e em Silves, recolhemos potes de cerâmica, quase completos e fragmentos de outros, que, sobretudo devido à sua morfologia e também pelas temáticas decorativas, permitem considerá-los como contentores para mel. Estes, encontram antecedentes peninsulares que remontam à II Idade do Ferro, mas esta categoria de recipiente, dada a sua funcionalidade, manteve-se, embora com variantes, nomeadamente dimensionais, durante a Romanização, Idades Média e Moderna. O seu uso prolongou-se até quase à actualidade, conforme indicam não poucos paralelos etnográficos.
4.7 LUXOS E SUPERSTIÇÕES – REGISTOS DE ESPÓLIO FUNERÁRIO E OUTRAS MATERIALIDADES NAS NECRÓPOLES ISLÂMICAS NO GHARB AL-ANDALUS
Raquel Gonzaga
No mundo islâmico, um muçulmano deve ser enterrado num simples covacho, envolto num sudário, posicionado em decúbito lateral direito, orientado para a cidade de Meca e sem qualquer tipo de espólio funerário. Os preceitos islâmicos são simples: qualquer tipo de hierarquização na morte ou aparato da vida mundana é altamente reprovável. No entanto, no decorrer do estudo e inventariação das necrópoles islâmicas do actual território português, verificou-se a existência de enterramentos que se fizeram acompanhar de objectos depositados de forma intencional. Alguns materiais serão indicativos de diferenciação na morte, outros terão uma interpretação um pouco mais complexa. A identificação destes elementos suscita à investigação várias questões sobre as práticas e as crenças das comunidades islâmicas que enterraram os seus mortos. Que significados estão por de trás destes vestígios materiais? Estaremos perante superstições e tradições enraizadas relacionadas com a visão da morte? Que aspectos sociais e simbólicos representam?
4.8 A NECRÓPOLE ISLÂMICA DO RIBAT DO ALTO DA VIGIA, SINTRA
Alexandre Gonçalves / Helena Catarino / Vânia Janeirinho / Filipa Neto / Ricardo Godinho
O sítio arqueológico do Alto da Vigia localiza-se na foz da ribeira de Colares, junto à Praia das Maçãs, em Sintra. No início do século XVI, provavelmente quando no local se abriam as fundações para um edifício de vigilância da costa, terão sido identificados vestígios epigráficos do santuário imperial romano dedicado ao Sol, ao Oceano e à Lua, que estariam reaproveitados em construções de época islâmica. Desta última ocupação identificaram-se, até ao presente, vestígios de, pelo menos, três edifícios, dois pertencentes a mesquitas, com respetivo mihrab, para além de diversos silos escavados na rocha e uma necrópole de rito islâmico que aqui se apresenta. Foram já escavadas cinco sepulturas, uma delas presumivelmente infantil, das quais apenas três conservavam vestígios osteológicos humanos que revelaram enterramentos de homens adultos sepultados segundo os ditames da fé islâmica.
4.9 O INÉDITO PAVIMENTO CISTERCIENSE DA CIDADE DE ÉVORA
Ricardo Morais Sarmento
No decorrer da intervenção arqueológica no antigo Paço dos Condes de Sortelha, em Évora, foram encontrados vários fragmentos de um pavimento tardo-medieval de tipologia cisterciense. A existência destes pavimentos é rara em Portugal, tendo sido identificados em Alcobaça, Leiria, Lisboa e Sintra. Neste sentido os exemplares eborenses são os primeiros a serem encontrados a sul do rio Tejo.O conjunto caracteriza-se por 47 fragmentos que protagonizam nove lajes de pavimento, não estando nenhuma in situ. Tratam-se de peças com distintas formas e dimensões tendo à superfície vários vestígios de terem sido cobertas por um engobe vermelho não vidrado. Esta investigação pretende divulgar este conjunto fazendo uma análise comparativa em relação à sua cronologia, forma e contexto arquitectónico.
4.10 DO SOLO PARA A PAREDE: A INTERVENÇÃO ARQUEOLÓGICA NO PÁTIO DO CASTILHO N.º 37-39 E A(S) TORRE(S) DE ALMEDINA DA MURALHA(S) DE COIMBRA
Susana Temudo
A recolha de novas informações sobre a edificação da torre de Almedina, no âmbito de uma intervenção arqueológica de diagnóstico realizada no edifício n.º 37-39 do Pátio do Castilho, permite acrescentar aos estudos conhecidos, uma interpretação arqueológica parietal do seu alçado Este. Um paramento revelador de diferentes sequências construtivas, coetâneas com parte dos aparelhos existentes nos outros alçados da torre e comuns às contíguas Torre da Contenda e de Anto, entre outros exemplos existentes no vale do Mondego. Evidências que, conjuntamente com outros achados arqueológicos, permitem acrescentar novos elementos ao debate em torno da fundação e evolução arquitetónica da torre.
4.11 UTENSÍLIOS CERÂMICOS DE UMA COZINHA MEDIEVAL ISLÂMICA NO ESPAÇO PERIURBANO DE AL-USHBUNA (1ª METADE DO SÉC. XII)
Jorge Branco / Rodrigo Banha da Silva
Apresentam-se os resultados do estudo das unidades [2233] e [2236] da habitação 6 do bairro islâmico da Praça da Figueira (Lisboa), correspondentes ao contexto de uso da cozinha. Pretende-se dar a conhecer as diferentes formas e tipologias de cerâmica que compõem este conjunto maioritariamente enquadrado nos finais do século XI e primeira metade do século XII, bem como reforçar algumas teorias em relação à cronologia e forma de abandono do bairro.
4.12 O CONVENTO DE S. FRANCISCO DE REAL NA DEFINIÇÃO DA PAISAGEM MONÁSTICO-CONVENTUAL DE BRAGA, ENTRE A IDADE MÉDIA E A IDADE MODERNA
Francisco Andrade
O convento de S. Francisco de Real, foi construído no séc. XVI, no local em que se considera ter sido construído o mausoléu/capela de S. Frutuoso. O sítio arqueológico foi alvo de diversas campanhas de trabalhos arqueológicos e reveste-se de particular importância para a compreensão da evolução dos conjuntos monástico-conventuais da região bracarense. A abordagem que efetuamos procurou uma aproximação, norteados pelo aparato metodológico da Arqueologia da Paisagem e da Arquitetura, ao significado do surgimento do espaço conventual e a sua relação com as dinâmicas de poder, entre o final da Idade Média e a Idade Moderna, na região bracarense.
4.13 “ANTE O CRUZEIRO JAZ O MESTRE”: RESULTADOS PRELIMINARES DA ESCAVAÇÃO DO PANTEÃO DA ORDEM DE SANTIAGO (SÉCULOS XIII – XVI) LOCALIZADO NO SANTUÁRIO DO SENHOR DOS MÁRTIRES (ALCÁCER DO SAL)
Ana Rita Balona / Liliana Matias de Carvalho / Sofia N. Wasterlain
A conquista cristã medieval do território hoje português não foi possível sem o contributo das Ordens Militares. A Ordem de Santiago, instalada em Alcácer do Sal, contribuiu para estabilizar a fronteira sul com os muçulmanos. A escavação da Capela do Tesouro do Santuário do Senhor dos Mártires (Séc. XIII-XVI) revelou um contexto funerário selecionado. Apresentam-se as considerações preliminares sobre essa intervenção. Os métodos de escavação e avaliação paleodemográfica utilizados foram os comumente aceites. Identificaram-se 36 enterramentos em três áreas com distinta cronologia e paleodemografia. O ritual funerário, o espólio e a avaliação sumária da paleopatologia confirmam as fontes que referem a capela como um local de inumação dos cavaleiros-monges, altos dirigentes da Ordem de Santiago, ou seja, um panteão.
4.14 PRODUÇÕES CERÂMICAS DA BRAGA MEDIEVAL: CULTURA E AGÊNCIA MATERIAL
Diego Machado / Manuela Martins
O estudo da cerâmica é devedor de séculos de sistematizações e categorizações que buscaram identificar e produzir um quadro formal, tecnológico e decorativo de objetos provenientes de intervenções arqueológicas, capaz de assegurar a sua datação e enquadrar os processos de fabrico. Contudo, pouca atenção foi dada à relação entre os objetos e as pessoas, sejam os seus produtores ou consumidores, pouco se tendo avançado na compreensão do modo como os materiais interagem com os indivíduos e a sociedade. Com base nas novas abordagens que nasceram do diálogo entre diversas áreas científicas, como a Antropologia, Semiótica, Psicologia, Neurociências, e.g., procuraremos valorizar as produções cerâmicas medievais de Braga enquanto agentes sociais, i.e., como um produto da interação entre pessoas, materiais e cultura.
4.15 AGRICULTURA E PAISAGEM EM SANTARÉM ENTRE A ANTIGUIDADE TARDIA E O PERÍODO ISLÂMICO A PARTIR DAS EVIDÊNCIAS ARQUEOBOTÂNICAS
Filipe Vaz / Luís Seabra / João Tereso / Catarina Viegas / Ana Margarida Arruda
Campanhas arqueológicas na Alcáçova de Santarém durante as décadas de 1990 e 2000, revelaram um conjunto diversificado de contextos cuja cronologia se estende desde a Idade do Bronze até ao período Medieval. O estudo arqueobotânico realizado sobre amostras provenientes de fossas com cronologias da Antiguidade Tardia e Época Islâmica revelou um conjunto de abundantes macrorrestos, composto por múltiplos cereais, leguminosas, frutos e outras plantas de interesse económico, mas também madeira carbonizada de uma grande diversidade de espécies. Estes resultados serão discutidos e comparados com outros estudos análogos de âmbito regional e supra-regional e confrontados com fontes escritas islâmicas do al-Andalus, lançando novas luzes sobre os recursos vegetais, hábitos de consumo e práticas agrícolas durante os períodos em análise.